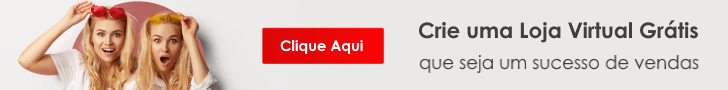O que é a Taxonomia?
A Taxonomia(do grego taxis , que é ordenação, e nomos , que é sistema, norma) ou Sistemática é o ramo das ciências naturais que se ocupa com a classificação dos organismos, essa denominação deriva de táxon – O táxon pode indicar uma unidade em qualquer nível de um sistema de classificação: um reino, género e uma espécie são taxa, assim como qualquer outra unidade de um sistema de classificação dos seres vivos.
A Taxonomia tem como objetivo básico dispor os organismos em uma ordenação que demonstre sua verdadeira posição no contexto do mundo orgânico e sua real posição filogenética.
Existe uma Taxonomia animal e uma Taxonomia vegetal, cada uma com seus princípios e regras particulares. A Taxonomia fundamenta-se em trabalhos de comparações críticas das semelhanças e diferenças existentes entre os organismos – tendo como base a Anatomia comparada, a Fisiologia comparada, a Embriologia comparada, a Imunologia comparada, a Etologia comparada, etc – e todos os aspectos citológicos, histológicos, ecológicos, químicos que se possa usar e, atualmente, as profundas análises genéticas e estruturais do DNA.
Os sistemas de classificação utilizados até o começo do século XVIII tinham algo em comum: eram apoiados em um número extremamente limitado de características dos organismos que estavam sendo analisados. Assim, por exemplo, surgiu uma classificação que dividia os animais de acordo com sua forma de locomoção: caminhantes, saltadores, voadores, nadadores.
Os inconvenientes de uma divisão como essa são óbvios, pois um mesmo grupo pode conter seres muito diferentes, contrariando o objetivo principal da classificação. Por exemplo: insetos, pássaros e morcegos são animais voadores. Apesar de muito diferentes quanto à sua estrutura, ficam no mesmo grupo por terem uma única característica comum: o fato de poderem voar.
Sistemas de classificação como esse, que utilizam um único critério para separar os organismos em grupos, ficaram conhecidos como artificiais, pois faziam uso apenas dos caracteres macroscópicos.
Entretanto, a partir do século XVIII, os sistemas de classificação tornaram-se naturais, usando critérios objetivos com dados fornecidos pela morfologia, fisiologia, ecologia e embriologia. Tais sistemas trouxeram duas importantes vantagens: primeiro, o fato de os organismos serem separados em grupos com base em múltiplas características assegurando que fiquem reunidos seres realmente semelhantes, satisfazendo os objetos de classificação; segundo, realiza-se a divisão dos organismos com base em seu parentesco evolutivo, refletindo a filogenia, que é a história evolutiva de um grupo.
O primeiro sistema classificatório foi proposto por Karl Von Linné (1707-1787), naturalista sueco, no ano de 1758, em sua obra Sistema Naturae, admitindo a existência de seis classes de animais: mamíferos, aves, anfíbios (que incluía os répteis), peixes, insetos e vermes (que reunia todos os demais invertebrados). Karl Von Linné costumava afirmar que “o principal objetivo das ciências é encontrar a ordem na natureza”.
A partir de 1859, os ensinamentos evolutivos coletados pelo genial naturalista inglês Charles Robert Darwin (1809-1882), possibilitou ao sistema proposto por Von Linné maior consistência (passando a ser ele uma projeção, um reflexo, da própria evolução orgânica, observando as relações filogenéticas existentes entre os diferentes animais e vegetais que habitaram o planeta no passado geológico e que vivem em nossos dias).
O trabalho classificatório se desenvolve em duas etapas básicas: trabalho analítico e trabalho classificatório. A classificação de um organismo parte de um trabalho analítico, no qual é feita uma descrição minuciosa do organismo, quando são estabelecidos os caracteres que são particulares, que o individualizam dentre os demais tipos orgânicos similares; é a fase da identificação do tipo orgânico, do estabelecimento da espécie. A classificação completa-se no trabalho sintético, quando é feito um detalhamento dos caracteres comuns, das afinidades – maiores ou menores – entre as várias espécies inventariadas. Isso leva à constituição de agrupamentos cada vez maiores, mais generalizados em seus limites anatômicos, os quais são denominados categorias taxonômicas, ordenadas hierarquicamente; é a fase da classificação propriamente dita.
Isso significa que a classificação não é uniforme e pode variar de acordo com as idéias de cada autor.
Categorias taxonímicas (taxon):
. Domínio
· Reino
· Filo
· Classe
· Ordem
· Família
· Género
· Espécie - abrangente
Categorias intermédias: usam-se prefixos como super, sub e infra.
Hoje, utilizamos o sistema de classificação de Whittaker, elaborado em 1969, no qual os seres vivos foram divididos em cinco reinos: Monera, Protista, Fungi, Metaphyta ou Plantae ou Vegetal e Metazoa ou Animalia ou Animal.
Em um reino encontramos uma enorme variedade de seres com apenas algumas poucas características comuns. Essa divisão já era feita por Lineu e, por muito tempo, todos os organismos eram classificados em dois reinos: animal e vegetal. As plantas fazem fotossíntese e são geralmente imóveis, enquanto os animais precisam obter alimento comendo plantas ou outros animais e, geralmente, movimentam-se. Tal divisão é muito cômoda quando se consideram plantas e animais de grande porte. Os problemas maiores surgiram com o aperfeiçoamento do microscópio comum e o desenvolvimento da microscopia eletrônica, além da aplicação de técnicas bioquímicas ao estudo das semelhanças e diferenças entre os organismos.
Reino Monera
Compreende os micoplasmas(parasitas celulares obrigatórios, chamados também de células incompletas), as bactérias e cianobactérias (algas azuis), organismos que têm em comum o fato de serem unicelulares e procariontes, ou seja, estão ausentes de sua célula a membrana nuclear e as organelas citoplasmáticas membranosas.
Representantes do Reino Monera:Bactérias Cianobactérias
Reino Protista
Compreende algas e protozoários, seres geralmente unicelulares (algumas algas são pluricelulares) e sempre eucariontes (que são aqueles cujas células contêm membrana nuclear e organelas citoplasmáticas membranosas). Nos protistas pluricelulares (como já se disse, os únicos protistas pluricelulares são algumas espécies de algas), as células não se organizam para formar tecidos. Representantes do Reino Protista: Alga Laminaria e Ameba
Reino Fungi
Os fungos são organismos que mesclam características encontradas em seres de outros reinos. Embora existam formas unicelulares, a maioria de seus representantes, com destaque para os bolores, mofos e cogumelos, é pluricelular. Entretanto, não apresentam tecidos definidos.
Seu corpo é constituído de um emaranhado de filamentos denominados hifas, formados por células eucarióticas. Apesar de heterótrofos e armazenadores de açúcares tipicamente animais, possuem uma estrutura corporal e reprodução semelhante às dos vegetais. Representantes do Reino Fungi : Cogumelo – Basidiomiceto Orelha-de-pau: Basidiomiceto
Reino Metaphyta ( Plantae )
As plantas são seres pluricelulares, eucariontes e suas células se organizam em tecidos de funções específicas. Nas plantas existem tecidos de proteção, sustentação, condução de seiva e parênquimas. Além disso, são todas autótrofas, produzindo o próprio alimento pela realização da fotossíntese, e suas células são revestidas por uma parede celular composta de celulose. Representante do Reino Metaphyta : Gimnosperma (Cyca)
Reino Metazoa ( Animalia )
Os animais também são pluricelulares, eucariontes e dotados de tecidos, mas são heterótrofos e dependem de outros seres para se alimentar. Além disso são geralmente dotados de sistema nervoso, que facilita sua integração orgânica com meio exterior.
Os tecidos animais são: epiteliais (de proteção), conjuntivos, muscular e nervoso.
Representantes do Reino Metazoa: Peixes, Répteis, Anfíbios, Mamíferos e Aves
Características dos grandes grupos de organismos (Curtis,1977)
A Taxonomia estabeleceu uma série de agrupamentos, que obedece a uma disposição hierárquica, pela qual um determinado organismo deve ser classificado.
Entre as categorias taxonômicas distinguem-se as chamadas “categorias taxonômicas hierárquicas”, de uso obrigatório em trabalho de classificação, e as “categorias taxonômicas facultativas”, que aumentam a objetividade da classificação e que podem, ou não, ser utilizadas de acordo com as conveniências da classificação.
As categorias taxonômicas obrigatórias são espécie, gênero, família, ordem, classe e filo. As categorias facultativas são subespécie, subgênero, subtribo, tribo, subfamília, superfamília, infraordem, sob ordem, superordem, coorte, infraclasse, subclasse, superclasse e subfilo.
A classificação taxonômica objetiva, em primeiro lugar, estabelecer a espécie, e desta parte toda a classificação. A espécie é, portanto, a unidade básica da Taxonomia. Em geral, o paleontólogo baseia-se somente em caracteres morfológicos determinados, em geral, por fragmentos esqueletais, o que torna suas avaliações muito mais conceituais e inseguras, porque são baseados em fenótipos e, quase sempre, incompletos.
O procedimento adotado para a classificação de um indivíduo dentro de uma espécie obedece a três tipos de observações:
# observações empíricas → os indivíduos que mostram igual ascendência (pais) e igual descendência (filhos) em seus caracteres morfológicos e em suas reações fisiológicas, que resultam de transmissão hereditária – pertencem a uma mesma espécie.
# observações biológicas → os indivíduos de uma mesma espécie são capazes de reproduzirem-se fertilmente entre si, ou seja, uma reprodução com sucessão de gerações férteis só acontece no âmbito intraespecífico, jamais ocorrendo acasalamentos interespecíficos.
# observações genéticas → os indivíduos de uma mesma espécie apresentam igual número de cromossomos e igual cariótipo – igual conjunto de cromossomos com mesmas morfologias e mesmos conteúdos genéticos.
Quando considerarmos, por exemplo, dois seres vivos, eles são tanto mais próximos quanto maior for o número de taxon comuns a que pertencem, isto é, quanto mais restrito for o nível do taxon em que ambos estão incluídos.
Inicialmente, nos trabalhos classificatórios, de Karl Von Linné, as espécies eram constituídas com base em um determinado espécime, bem estabelecido, como o tipo “ideal” daquela espécie. Os indivíduos eram classificados conforme coincidiam perfeitamente com o tipo ideal. Todavia, esse tipo desprezava, por completo, a possibilidade, sempre existente, de diferenças individuais entre os componentes de uma mesma espécie.
Com os trabalhos anatômicos de Georges Cuvier, o conceito de tipo evoluiu, passando a ser um padrão anatômico básico. Os indivíduos das espécies passaram a ser considerados dentro de pequena possibilidade, sempre existente, de diferenças individuais entre os componentes de uma mesma espécie – como a teoria da evolução viria, mais tarde, demonstrar.
Na moderna Taxonomia, o tipo perdeu seu espaço eminentemente classificatório para assumir um papel exclusivo ligado às normas de nomenclatura:
# Hipodigma → denominação dada ao conjunto de exemplares usados na descrição de uma nova espécie; quanto maior o número de indivíduos melhor deverá ser a caracterização da espécie.
# Holótipo → denominação dada àquele indivíduo único sobre o qual se fundamentou a criação de uma espécie ou àquele indivíduo escolhido dentro do hipodigma para representar a nova espécie criada sobre um grupo de indivíduos.
# Parátipo → denominação dada àquele indivíduo, ou indivíduos como complementares na criação da nova espécie, isto é, dos demais integrantes do hipodigma.
# Depositório → refere-se ao número de catálogo do indivíduo representante da nova espécie; todos os indivíduos usados no conjunto de exemplares do hipodigma devem ser numerados (os códigos de nomenclatura impõem esta obrigatoriedade); os componentes de um depositório são os integrantes do hipodigma.
# Onomatóforo → indivíduo escolhido para ser o portador do nome na coleção do museu; aquele que é mostrado como a nova espécie; de ordinário, costuma ser o holótipo.
# Síntipo → quando o autor de uma nova espécie não indica um holótipo, dentre os componentes do hipodigma, cada um desses indivíduos passa a ser um síntipo; normalmente o síntipo tem a mesma procedência geográfica do holótipo.
# Lectótipo → quando um dos síntipo for indicado, dentre os componentes do grupo, por um autor qualquer, para suprir a falta do holótipo, esse será o lectótipo.
# Paralectótipo → os demais integrantes do síntipo, após a escolha do lectótipo, recebem a denominação de paralectótipo.
# Neótipo → na eventualidade da perda ou da destruição do holótipo, ou do lectótipo, deve ser indicado um novo holótipo, ao qual será dado o nome de neótipo.
O estabelecimento das demais categorias taxonômicas, as mais amplas que a espécie, é sempre conceitual, sendo discutível a validade de um determinado táxon que é idealístico e não material como no caso da espécie. Portanto, as categorias taxonômicas são sempre agrupamentos baseados em critérios subjetivos.
Todavia, existem algumas diretrizes fundamentais que devem ser observadas quando da propositura de uma nova unidade entre as categorias taxonômicas:
# Gênero → agrupamento de espécies que mostram grande afinidade estrutural, a qual se aproxima muito, sob o ponto de vista anatômico, biologicamente abordado.
# Família → agrupamento de gêneros baseado em afinidades anatômicas estritas, tais como a forma dentária e a estrutura dos dentes, por exemplo, nos mamíferos, ou a estrutura dos membros locomotores, sempre considerando os aspectos estruturais que se mostrem comuns a vários gêneros.
# Ordem → grupo taxonômico fundamentado em um conjunto de estruturas, sem que as relações filogenéticas mostrem-se evidentes. Os cetáceos, por exemplo, são definíveis e não são difíceis de vinculá-los aos mamíferos, sendo isoláveis com base em suas notáveis adaptações especializadas para a vida aquática.
# Classe → grupo taxonômico, que se baseia em modificações ligadas às relações filogenéticas que se revelam bem aparentes, como aquelas que identificam os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, entre os vertebrados; baseia-se, portanto, em adaptações de ordem morfológica e fisiológica amplas, particulares, para a adoção de um modo próprio de vida.
# Phylum(Filo) → agrupamento mais amplo da Taxonomia, estando fundamentado em modificações morfológicas e fisiológicas de grande porte, decisivas, que representam uma verdadeira ruptura estrutural, como a corda dorsal dos vertebrados, a metamerização dos anelídeos ou a concentração de metâmeros dos artrópodes.
Até o século XVIII, os manuscritos preparados bem como a maioria dos livros impressos eram escritos em latim, quando começaram a delinear os países europeus modernos, com sentimento de nacionalidade. Imprimiu-se, então, os livros no idioma de cada país, conservando o latim para as obras técnicas e para os nomes de animais.
As modernas bases do código de escrita dos nomes científicos foram propostas, no ano de 1758, por Karl Von Linné, quando da publicação de sua obra máxima Sistema Naturae.
Com base na proposta de Von Linné, o Congresso Internacional de Zoologia, de 1898, criou uma comissão para preparar um Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, cujas regras foram adotadas a partir de 1901.
Presentemente, tanto a nomenclatura dos organismos viventes como a dos organismos fósseis obedecem às normas constantes do denominado Código Internacional de Nomenclatura Zoológica.
A nomenclatura científica destina-se a uniformizar, internacionalmente, a denominação dos animais, pois existem nomes populares para as mesmas espécies, variando de região para região, dentro do mesmo idioma.
Veja, a seguir, algumas regras indispensáveis, seguidas de exemplos, para que se possa entender a nomenclatura utilizada na literatura zoológica e paleozoológica:
1. Nomes zoológicos de todas as categorias taxonômicas são escritos, obrigatoriamente, a partir de raízes gregas ou latinas e, na falta ou na impossibilidade de usá-las, como palavras corretamente latinizadas. Isso costuma ocorrer com os nomes geográficos e com os nomes patronímios.
Primates (ordem) ... Latim primus → primeiro
Anthropoidea (subordem) ... Grego anthropus → homem
2. Nomes geográficos, que são nomes próprios e não aceitam tradução, referem-se a uma região ou a um acidente geográfico, e devem ser latinizados. A latinização deve obedecer corretamente às declinações e, neste caso, ao gênero neutro em que as palavras terminam em us ou is.
Australopithecus africanus →macacos do sul da África
Australopithecus afarensis → do Afar, Etiópia
3. Nomes patronímios são aqueles usados para homenagear pessoas. Tratando-se de nomes próprios não podem ser traduzidos, e devem ser latinizados de acordo com o gênero: nomes masculinos terminam em i e nomes femininos terminam em ae.
Paranthropus boisei →du Bois
Latimeria chulmanae → Chulmann
4. A nomenclatura atenta, em primeiro lugar, para a formação do nome da espécie. O nome da espécie é sempre binominal: o primeiro identifica o nome do gênero (genérico), enquanto o segundo identifica o nome específico (não confundir com o nome da espécie). O nome genérico é escrito com inicial maiúscula, enquanto o nome específico, com inicial minúscula.
Nome da espécie → nome genérico + nome específico
Homo habilis, Homo erectus, Paranthropus boisei
5. O nome da espécie, para figurar em uma publicação científica especializada, deve ser acrescido do nome do autor, de uma vírgula e, do ano de publicação.
Ramapithecus brevirostri (Lewis, 1934)
Australopithecus afarensis (Johanson, 1978)
Nome subespecífico → Nome da espécie + Nome subespecífico
Smilodon populator populator
Ardipithecus ramidus kadabba
7. A nomenclatura do subgênero é, igualmente, tri nominal como na nomenclatura da subespécie. Nesse caso, o nome da espécie é acrescido de uma terceira palavra escrita com inicial maiúscula, colocada entre parêntesis, e disposta entre as outras duas palavras, isto é, entre o nome genérico e o específico.
Nome subgenérico → Nome da espécie + Nome subgenérico
Dryopithecus (Proconsul) africanus
Australopithecus (Plesianthropus) trnasvaalensis
8. Os nomes de subespécie, subgênero e gênero devem aparecer sempre grifados no corpo do texto, ou seja, devem aparecer destacados com um tipo de caractere diferente daquele empregado para o restante da escrita.
“Aparentemente deste mesmo estoque de Australopithecus anamensis ancestral evoluiu Australopithecus bahrelghazali, aparentado e contemporâneo do Australopithecus afarensis”.
9. Os nomes empregados para denominar as categorias taxonômicas superiores ao subgênero, isto é, de gênero inclusive, para as mais amplas, são sempre uninominais, ou seja, são escritos sempre com uma única palavra com inicial maiúscula.
Gênero .... Gorilla
Filo ... Mollusca
10. Lei da Tautonomia: os nomes específico e genérico, específico e subespecífico, específico e subgenérico, genérico e subespecífico, genérico e subgenérico e subespecífico e subgenérico podem ser escritos com a mesma palavra, desde que obedecidas às regras para a constituição de tais nomes, ou seja, aquelas mencionadas anteriormente.
Gorilla gorilla
Paranthropus robustus robustus
11. Os nomes de tribo, subtribo, família, superfamília, subordem e ordem devem ser escritos com terminações identificativas próprias:
Tribo ... ini → Panochthini
Subfamília ... inae → Homininae
Família ... idae → Hominidae
Superfamília ... oidea → Hominoidea
Subordem ... ina (dina) → Olenillina
12. Nos casos em que uma espécie tenha sido referida erradamente a um dado gênero e, posteriormente, tenha sido reclassificada genericamente, isto é, tenha mudado de gênero na classificação, em face de uma melhor interpretação taxonômica, o nome do autor que propôs a primeira (incorreta) classificação genérica costuma aparecer escrito entre parêntesis após o nome específico.
Zinjanthropus boisei (Leakey, 1959) foi reclassificado como Paranthropus boisei (Leakey)
Pitecanthropus erectus (Dubois, 1983) foi reclassificado como Homo erectus (Dubois)
13. Na classificação de animais ocorrem grupos cuja posição taxonômica não se acha, ainda, bem esclarecida (nos fósseis essa dificuldade é relativamente freqüente); tais grupos – que apresentam uma unidade estrutural, mas não estão com suas vinculações taxonômicas cm outros grupos conhecidos e bem definidos – são referidos, na literatura especializada, como incertae sedis.
Graptozoa, Chitinozoa, Machaerisis, Ctecloidea, etc.
14. Lei da Prioridade: para que um nome científico proposto possa ter sua validade reconhecida internacionalmente, faz-se necessário atender todos os requisitos estabelecidos pelas regras de nomenclatura.
# é indispensável que o nome proposto se encontre em completa concordância com as regras do Código Internacional de Nomenclatura Zoológica.
# é indispensável que o organismo, em questão, tenha recebido uma cuidadosa e minuciosa descrição, convenientemente figurada, isto é, que tenha sido complementada por ilustrações (fotografias e desenhos) que permitam uma boa avaliação por parte dos especialistas.
# em decorrência das exigências, na aplicação da Lei da Prioridade, podem ocorrer três casos básicos de invalidade: Nomina Nuda, Homonímia e Sinonímia.
Nomina nuda → quando um nome proposto não está em concordância com o Código, torna-se inválido, devendo ser substituído por outro nome proposto pelo próprio autor ou por qualquer outra pessoa que constate a invalidade.
Homonímia → se um nome é proposto e, posteriormente, constatado que já havia sido usado para denominar outro táxon – ficando dois animais diferentes com o mesmo nome -, o segundo nome proposto perde sua validade, devendo ser substituído por nova denominação proposta pelo próprio autor ou por outra pessoa que constate a duplicidade. O primeiro nome proposto é o válido e o segundo passa a ser citado como uma homonímia do primeiro.
Sinonímia → quando um mesmo e único tipo animal, tenha recebido duas denominações distintas, propostas por dois pesquisadores diferentes, a segunda denominação perde sua validade, permanecendo válida a primeira, sendo a segunda, então, citada como uma sinonímia da válida.
Existem associações de taxonomistas que oficializam os nomes científicos dos organismos de acordo com as respectivas regras. Os nomes são assim os mesmos para todo o Mundo, o que facilita a comunicação científica.
WIKIPÉDIAa de custo e benefício.
Aqui não iremos subestimar os conhecimentos de vocês meus caros aquaristas, pois sabemos que a maioria de vocês
não mede esforços na procura de informações. Nosso objetivo é apresentar conceitos básicos de nutrição de peixes e suas
aplicações práticas no aquarismo.
Os peixes possuem crescimento contínuo, tendo rotas metabólicas e catabólicas gerais semelhantes a dos outros seres
vivos, variando em alguns passos metabólicos devido a presença de enzimas específicas.
- Entre essas diferenças podemos exemplificar a superior conversão alimentar dos peixes, quando comparadas a outras
espécies de animais. Um peixe pode, proporcionalmente, comer menos e crescer mais, se compararmos a um cão,
gato, ou passarinho. Um dos fatores que permitem isso é o menor gasto de energia dos peixes para realizar suas funções
vitais. Sem falar que são capazes de eliminar o nitrogênio (excreção nitrogenada) pela urina, fezes e, mais de 80% pelas
brânquias de maneira muito eficiente e sem maiores gastos de energia em um ambiente aquático equilibrado.
Os peixes apresentam hábitos alimentares definidos, mas não estritos.
- Queremos dizer com essa frase que por mais que uma espécie seja definida categoricamente como herbívora,
carnívora e onívora ela não está “bloqueada” de praticar hábitos alimentares diferentes. O canibalismo,
por exemplo, muito praticado por espécies carnívoras pode ser observado em espécies classificadas como herbívoras.
O aspecto mais relevante nisso tudo é o fato de que em determinada fase da vida os peixes possuem o mesmo hábito
alimentar. Não importando a espécie, (na fase de pós larva) os peixes se alimenta exclusivamente de organismos
zooplanctônicos. Significa que nessa fase da vida, um carnívoro, um filtrador e um herbívoro irão disputar pelos mesmos
alimentos no seu ambiente natural. O hábito alimentar da espécie (definido geneticamente e formado ao longo da
evolução da espécie) só irá manifestar-se posteriormente quando já um alevino.
Visualização de organismos constituintes do zooplâncton (base alimentar das pós larvas de peixes em seu ambiente
natural). A utilização de "infusórios" contendo esses organismos permite uma melhora na sobrevivência das pós larvas de
peixes, uma vez que é semelhante a dieta de todas as espécies nessa fase de vida no seu ambiente natural. No
aquarismo existe a alternativa de rações microencapsuladas específicas para essa fase de vida, mas a sua utilização
merece cuidados especiais na manutenção da qualidade da água. Foto: Rodrigo G. Mabilia
Particularidades essas que também ocorrem na definição do sexo dos peixes, visto que os peixes nascem com ambos
aparelhos reprodutores. Ao contrário de aves e mamíferos que nascem sob condições normais com um dos aparelhos
reprodutores (que os definem como macho e fêmea) o sexo dos peixes só será definido após o nascimento. Só não
podemos fazer confusões: geneticamente o sexo dos peixes já está programado através de seus cromossomas
masculinos e femininos. Apenas a manifestação do sexo é que ocorrerá posteriormente através do desenvolvimento de
apenas uma das gônadas no peixe. Há uma diferença em definirmos o sexo cromossomicamente e fisiologicamente.
Numa linguagem um pouco mais técnica, podemos afirmar que os peixes nascem geneticamente definidos, mas que
fenotipicamente não. Podemos comprovar pelos resultados obtidos na aplicação de técnicas (como a aplicação de
hormônios em rações) que revertem sexualmente um indivíduo ainda nas fases iniciais de vida.Técnicas essas muito
disseminadas na piscicultura de corte, como no caso das tilápias.
PROTEÍNAS E AMINOÁCIDOS
As proteínas são compostos orgânicos formados por diversos aminoácidos. Existem